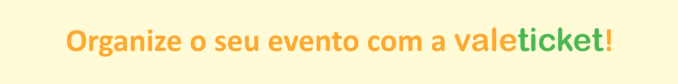“Quem for declarado leproso, deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: ‘Impuro! Impuro!’. Ficará impuro enquanto durar sua doença. Viverá separado e morará fora do acampamento.” Levítico 13,45-46
O texto bíblico, do Antigo Testamento, pode ser visto como uma premonição da política de segregação dos hansenianos, que seria adotada no Brasil a partir dos anos de 1920. Nessa época, começo do século XX, a então lepra ainda era incurável, e sua forma de transmissão, desconhecida. Os 40 anos do fim oficial da política de isolamento de doentes, completados neste mês de maio, não foram suficientes, porém, para romper o preconceito.
A hanseníase também se mostrou mais forte que sua própria cura e ainda estigmatiza filhos e netos de ex-pacientes. Intimamente associada à pobreza, a doença está estabilizada no Brasil, mas em patamar elevado. O País é o primeiro no mundo em número de novos casos em relação ao tamanho da população.
 Pavilhão das mulheres na Colônia Santa Izabel, inaugurada em 1931. A unidade foi considerada modelo de leprosário e tinha os internos divididos por sexo e faixa etária – Foto: Arquivo Morhan/Divulgação
Pavilhão das mulheres na Colônia Santa Izabel, inaugurada em 1931. A unidade foi considerada modelo de leprosário e tinha os internos divididos por sexo e faixa etária – Foto: Arquivo Morhan/Divulgação
Toda a história do tratamento da hanseníase em Minas, de alguma forma, passou pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a começar pela Lei 801, de 1921, que autorizou a criação de leprosários no Estado.
Mais recentemente, em 2005, outras duas normas foram aprovadas pelo Parlamento mineiro, a Lei 15.790, que concedeu bolsa mensal aos hansenianos que prestaram serviços nas antigas colônias, e a Lei 15.439, que instituiu a Política Estadual de Educação Preventiva Contra a Hanseníase e de Combate ao Preconceito no Estado.
Discussões importantes, como a da regularização fundiária das colônias, também foram feitas na Casa e serão retomadas nesta legislatura. No âmbito federal, entre outros marcos importantes, está a Portaria do Ministério da Saúde 165, de maio de 1976, que oficializa o fim da internação compulsória.

Nenhuma lei, porém, será suficiente para apagar as marcas de um período em que os chamados leprosos eram literalmente caçados pela polícia sanitária e levados, à força, para a internação, sob o amparo do poder público.
A história desses sobreviventes ainda está viva em antigas colônias, construídas em 33 pontos do Brasil. Em Minas, a partir da década de 1920, foram criadas unidades em Betim e Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Bambuí (Centro-Oeste de Minas), Ubá (Zona da Mata) e Três Corações (Sul de Minas). O Estado já possuía a Colônia Ernani Agrícola, em Sabará.
Na antiga Colônia Santa Izabel, em Betim, hoje denominada casa de saúde e administrada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), ainda vivem cerca de 300 ex-hansenianos institucionalizados (assistidos pelo Estado), 120 deles na área asilar.
A Fhemig ainda tenta contar os que não tiveram a doença, mas que foram separados de suas famílias e sofreram fome, abandono, violência e abuso sexual. Nessa lista estarão, certamente, os filhos das hansenianas, que eram arrancados das mães logo após o nascimento e levados para os chamados preventórios. Muitos desapareceram, em mais um capítulo dessa política pública que, além de desumana, mostrou-se ineficaz.
“Tenho 54 anos de sofrimento”, diz ex-interna
O drama da separação familiar certamente foi maior para as mães. Mas o relato dos filhos é tão dramático, que fica difícil imaginar uma dor maior. Maria Luísa da Silva, 54 anos, nasceu em Santa Izabel. Não conheceu o pai e só podia ver a mãe, hanseniana, através de uma grade. Durante uma das visitas, ela pegou na mão deformada da mãe. Esse primeiro – e único – contato foi tão forte que a menina tentou dar volta por trás da grade para “ganhar um colo”. Não conseguiu, e isso lhe custou uma surra e uma noite no porão do preventório.
Aos nove anos, sem saber distinguir um verdadeiro carinho, ela finalmente ganhou um colo, mas era o de um sapateiro da unidade, que a estuprou. “Ele passava a mão em mim e me dizia: ‘hoje vamos fazer diferente’. Eu achei aquilo bom, um afago. Mas ele ameaçou me bater se eu contasse a alguém”, relembra Maria Luísa.
Aos 18, ela foi obrigada a deixar o preventório e passou um ano dormindo na rua e sofrendo novos abusos. “Pedi ajuda na rodoviária de BH e arrumei um emprego, mas meu patrão também tentou me estuprar”, conta.
Maria Luísa soube da existência de duas irmãs mais velhas. A primeira foi estuprada e morta pelo tio, e a segunda saiu do preventório e nunca mais foi vista. E seu caso não é uma exceção. Durante anos ela guardou consigo essas histórias, até que a participação nas reuniões do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) promoveu a catarse.
A tristeza, porém, permanece, assim como o estigma e a pobreza. Questionada sobre a possibilidade de receber uma indenização pecuniária, Maria Luísa é taxativa: “eu preferiria ter essa mancha retirada de mim”.
Bonecas em lugar de filhos
Maria das Dores Moreira, 57 anos, também foi separada da mãe e passou por três preventórios. “Encontrei minha mãe apenas uma vez. Ela saiu escondida e veio me ver”, lembra. No preventório, sobrou fome e maus-tratos e faltou carinho, o que deixou marcas profundas.
“Graças a Deus, não casei e não tive filhos”, desabafa ‘das Dores’, apoiada em uma muleta enfeitada com uma boneca, um símbolo de luta dos que foram atingidos pela política de segregação. O assessor da Fhemig para essa causa, Cordovil Neves de Souza, o Vila, explica que as bonecas eram comuns nos pavilhões que abrigavam as mães, numa inútil tentativa de substituir as crianças. Maria das Dores conta que também teve uma boneca na infância, mas sem dedos. “A freira que cuidava da gente cortou os dedinhos dela, me dizendo que era para eu me acostumar com a doença”, afirma.
Vila conta que, além de comprometimentos físicos, muitas crianças que passaram vários anos em preventórios apresentam também algum distúrbio mental. Nesses casos, recebem dos moradores das antigas colônias o apelido de “pindorama”, em referência ao bairro de Belo Horizonte que abrigou o último preventório a ser desativado. “Em termos de tortura, essas pessoas disputam com presos políticos”, define Vila.
Antônia Ribeiro Barroso, hoje com 81 anos, teve a filha de cinco meses separada, mas pela própria família, em Alpinópolis (Sul de Minas), na década de 1960. “Eu fiquei doente. Meu marido suicidou, aos 35 anos de idade, por entender que meu caso era irreversível. Então, minha mãe doou minha filha e nunca me disse para onde ela foi levada”, conta.
Dona Antônia foi levada para Santa Izabel, onde ainda vive, e somente 30 anos depois teve notícias da filha, que havia ficado com um tio. Quando conheceu Inês, viu também o neto. O encontro foi em Birigui (SP), em meio a muito choro. “Foi uma luta triste, mas eu venci”, comemora. Assim como ela, vários internos adotaram crianças quando houve a abertura da colônia. Mais do que para “compensar” os filhos desaparecidos, era um gesto de afirmação e de cidadania.
Júlio César Pinto, assessor da Fhemig, salienta que, para garantir a unidade familiar naquela época, somente fugindo da colônia, caminho que foi seguido por alguns casais. Fora da unidade, porém, não havia os benefícios do Estado, a moradia, a alimentação. “Era um preço alto. Esses pais foram revolucionários”, afirma.
Doença ainda é estigmatizada
Maria Luísa e Maria das Dores nunca tiveram hanseníase. Mas sofreram toda a carga de preconceito da doença, historicamente vista como uma maldição. Assim como outros moradores de Santa Izabel, elas eram expulsas do transporte público e não podiam estudar em escolas no Centro de Betim. Dois outros internos da colônia protagonizaram um caso clássico: Rafael Barbizan (MDB) e Paulo Drumond (Arena) foram eleitos vereadores de Betim e tiveram que recorrer à Justiça para conseguir tomar posse, em 1976.
Ainda hoje a desconfiança com relação à hanseníase permanece, o que, segundo especialistas, ajuda a manter elevados os números da doença no Brasil. Pacientes ainda se escondem por medo das consequências. “Assumir a doença requer coragem. Ainda continuamos educando pelo medo”, observa Vila.
Ele cita que, em 10% dos novos casos diagnosticados em Minas, os pacientes já têm deformidades, o que indica que estão doentes há anos. Por essas mesmas razões, para cada caso diagnosticado, há três não identificados, conforme atesta o médico Getúlio Ferreira de Morais, diretor de Santa Izabel.
O preconceito geográfico também persiste. O deputado Geraldo Pimenta (PCdoB), que começou a carreira médica na antiga colônia, afirma que, ainda hoje, para arrumar um emprego, por exemplo, muitas pessoas usam endereço diferente e escondem que moram em Citrolândia, região de Betim que nasceu no entorno de Santa Izabel a partir da chegada de familiares dos pacientes internados. “Citrolândia tem o pior Índice de Desenvolvimento Humano da RMBH na cidade mais rica da RMBH”, reitera Getúlio.
Para piorar, lembra Vila, a doação de terras das colônias muitas vezes se destina à construção de equipamentos que reforçam o preconceito. Foi assim com o Presídio de São Joaquim de Bicas, construído em terras de Santa Izabel, e com a Penitenciária de Três Corações, que está no terreno da antiga Colônia Santa Fé.
Talvez não por acaso, São Joaquim de Bicas ocupe o primeiro lugar em Minas no ranking de homicídios por arma de fogo, segundo o Mapa da Violência 2015. E Betim apareça em primeiro no estudo que mede homicídio de adolescentes de 16 e 17 anos.
Avanços – Quando a questão se refere aos avanços alcançados pelos ex-hansenianos em tantos anos de luta, nem sempre há consenso. Em termos de marco legal, a Lei 11.520, de 2007, é uma conquista. Ela concedeu pensão indenizatória aos pacientes que foram internados compulsoriamente até dezembro de 1986, último ano de identificação de casos de internação compulsória pelo Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase.
Mas o coordenador do movimento em Minas, Eni Carajá Filho, assegura que a burocacia e a dificuldade de se provar essa condição fez com que o benefício chegasse, de fato, a cerca de 10 mil pessoas, contra 30 mil que teriam direito. “A lei também não acessa os que foram isolados fora das colônias e os filhos dos pacientes”, aponta. Para Eni, nenhum avanço se compara ao direito de ir e vir, garantido com a abertura das colônias.
Citando a mesma norma, Vila avalia que o reconhecimento do erro por parte do Estado foi mais importante que a própria indenização, porque deu visibilidade aos ex-hansenianos. “Com isso, eles também passam a se enxergar e a ter orgulho de sua história”, aponta. Outro avanço simbólico foi a retirada do termo lepra dos documentos oficiais no País. E, numa nova frente de luta, todos estão envolvidos no trabalho de localizar e juntar parentes que foram separados, o que já começa a acontecer.
Agora, a Fhemig está revendo processos para personalizar o atendimento aos pacientes institucionalizados, analisar os contatos desses ex-internos e também para tornar as colônias de Minas em centros de referência nacional no tratamento da doença. Aproximadamente 5 mil pessoas serão examinadas nas quatro ex-colônias. “O objetivo é mostrar que esses locais e seu entorno são os mais seguros e, com isso, tentar também reduzir o preconceito”, aponta Vila.
(Fonte: ALMG / Repórter: Maria Célia)